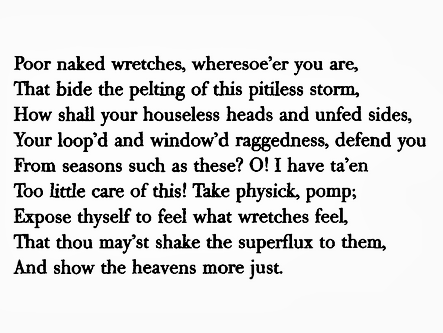30 de Janeiro — 1911
Janota e coçado, com uma flor na botoeira e a fumar um charuto de dez reis, aí vai o poeta Gomes Leal. Quem não viu noutro tempo este homem extraordinário, não conheceu um verdadeiro, um autêntico poeta satânico. Passou nas ruas de chapéu alto, falando com intimidade às estrelas e tocando no céu com as guias do bigode. Escreveu as páginas das Claridades do Sul, da Traição e do Anti-Christo. Viveu alheado, como é indispensável a quem convive todo o dia, tu cá, tu lá, com o sonho. Cantou a plebe, destruiu os deuses, arremessou sarcasmos aos banqueiros, satirisou o grotesco, e tocou-nos ombro com ombro, apontando altivo o cravo vermelho da lapela:
—Amigos, as flores são as condecorações dos poetas!
Prodigalisou-o a caricatura: teve na vida mistérios perturbantes: um dia acometeram-no no comboio, em Espinho, quando regressava do Porto, até onde seguira a rainha Maria Pia, depois de lhe atirar uma rosa escarlate, que arrancou da botoeira, em plena praça, com um desdém supremo pela burguesia endinheirada… Sim, foi este que teve a glória da cadeia, que cantou as estrelas, Jesus e Mephistopheles, foi este mesmo homem, a quem falta roupa na cama no inverno glacial, e que sorri com humildade para nós, avelhantado e tímido… As janelas não têm vidros, a roupa é pouca, mas tu viveste o que não vive um rei, e o império deslumbrante, que criaste à custa de dor, cheio de obscuridades e de génio, com catadupas de oiro, como nas lendas, e pálidas figuras; essa mescla de gritos, de paixão; esse sonho confuso e imenso, pertence-te, e não há quem to roube, mesmo com as janelas abertas de par em par. Deixa entrar o frio — e sorri…
Agora vai todas as manhãs ouvir missa à Pena ou ao Resgate. É um homem encolhido e friorento, que a banalidade tem gasto e desgasto como as moedas fora de curso que se fartaram de correr de mão em mão, e ainda há dias o encontrei no Porto, numa manhã de sol, de casaco de borracha e colarinho suspeito. Ia pregar à Associação Catholica, e atravessava a Praça entre os aplausos dos pálidos sacristas, que o rodeavam como quem força um deus, sem repararem que só levavam um simulacro. No sonho de outrora não há mãos que se atrevam a tocar… Elle sorria enlevado, com o eterno charuto ao canto da boca.
A vida feroz torna-nos grotescos. Consegue tudo. Deforma-nos. O próprio sonho entra às vezes no domínio da chacota. Onde, porém, Garrett chega ao ridículo, com três cabeleiras postiças, Gomes Leal, de casaco de borracha e discursos de propaganda, atinge o trágico… Eu bem sinto a tristeza, bem sei, bem vejo o arranco, bem palpo a dor. A figura que cheira a bafio como se saísse do fundo do armário do passado para a plena luz, faz rir e faz chorar. No esforço para não ir ao fundo, no gesto de náufrago que se apega com desespero, quando a dor estala por todas as costuras, há um rictus de clown. Olha lá: o pior é tu ousares tocar no que há em mim de mais sagrado, o pior é tu transformares-me o sonho numa notícia do Século, o pior de tudo é tu atreveres-te a tocar neste jardim da vida — e, pior ainda, é que eu continuo a sorrir como se possuísse o antigo tesouro de Ali-Baba. Mais um momento, outro passo e reduzes-me à condição de trapo. Deitas-te comigo, acordo contigo ao meu lado, e há ocasiões em que até o som da minha voz me sobresalta. Por ora debato-me, por ora sinto o coração opresso, fingindo que não existes, mas há já terror no meu sorriso, e, quando me ouço, ouço-te também os passos. Sei perfeitamente que o momento terrível depende de um único traço de separação — agora, já, daqui a bocado…
Estás por trás de mim e o minuto grotesco será quando eu deixar de te conhecer e quando sentir a tua mão gelada… Estás por trás de mim! estás por trás de mim! Bem sei que estás por trás de mim, e que vais ser a minha companhia até à cova. Confesso-te: o que me aterra não é o momento que passou, nem o que há-de vir — é o momento, que vale um século, em que tenho de galgar o abismo. Por ora teimo, por ora ainda digo: — A ciência, meu rapaz, sabes o que é? É um cifrão cortado. — Mas como o digo!…
…Há um momento tétrico nos Espectros em que um novo personagem se introduz em sena. Desde o princípio que o sabemos a trás da frandulagem de papelão: está ali presente, não como uma figura de teatro, mas monstruoso, real e patente, como o Destino, à espera de intervir. Desde então perco o fio da peça, não sigo mais os bonecos que se agitam no tablado, só ouço o meu próprio monólogo, e quedo-me de olhos atónitos noutro espectáculo atroz. Tenho a certeza absoluta de que não há forças humanas que lhe detenham a marcha. Começa então a tragédia…
É este mesmo personagem que se intromete na vida do poeta. As palavras contêm ainda e sempre as mesmas letras, mas até as palavras mirraram. Esqueci tudo, troquei tudo pelo sonho, e, quando tu quiseres, de mim próprio ficarei desconhecido! Como eu compreendo agora aquela frase de outro poeta: «Sinto que não posso trabalhar! sinto que não posso trabalhar!» É com esta angústia que te ouço os passos mais perto. Já não é só a sena que tu enches, é a sala toda, figura invisível, único personagem do drama, que te entranhas na alma dos espectadores. Enquanto os bonecos teimam em pronunciar palavras que não ouço, que não têm significação nem importam, tu levas-me, quer eu queira, quer não queira, a sorrir com enlevo à própria banalidade.
*
A casa em que mora Gomes Leal, na esquina do palácio da Bemposta, parece arrancada a um velho quadro de Velasquez, com a sua entrada de pedra e um arco na escada. O soalho entreaberto oscila, as janelas não têm vidros. Conheço-a. Já lá morei há anos no mesmo quarto que dá para um quintalório, com duas ou três oliveiras carcomidas. Do buraco, onde nunca chega o sol, sai um frio de morte. Bato, a porta abre-se, o soalho range, e o poeta surge com o velho chapéu às três pancadas, luvas pretas — até de luvas escreve Gomes Leal! — e no quarto desagasalhado há luvas por toda a parte, por cima das mesas, entre os livros, penduradas no tecto. O leito é um catre. Ao lado um Cristo, uma mesinha de pé de galo, e no soalho apodrecido, montões de jornais e de livros. Na parede, que ressuma humidade, um quadro a crayon, com o vidro partido: o retrato da mãe de Gomes Leal.
—Vivo só, não tenho familia. Minha mãe morreu-me e aqui estou como um órfão.
—Vive isolado sempre?
—Levanto-me cedo, vou aos templos. Depois passo pelas bibliotecas e pelos livreiros e venho para casa escrever. Almoço e janto onde calha. Quando tenho bebo para esquecer, à noite escrevo, deito-me cedo e durmo… Tenho três livros para publicar: As memórias d’um revoltado, continuação da história da minha vida, O macaco de Nero, estudo de Roma, e o livro em prosa, Cidade do Diabo, onde trato da decadência do mundo moderno. Comecei também Christo nos infernos, poema em verso. Conservo as minhas ideias religiosas, que não são incompatíveis com a república, e ficarei contente por ver realizado o sonho de toda a minha vida, que acalentei como um poeta, e que desejo que se não dissolva como uma bola de sabão na cabeça dum prego…
E queda-se num silêncio amargo. A chuva cai lá fora. A noite e um frio, uma humidade de poço, trespassam-me…
No seu génio houve sempre síncopes, falhas, absurdos. Se tropeçou, ergueu-se sempre mais alto. Aos trinta anos reage-se. Mas chega um momento da vida em que a gente se sente transida pelo ar do sepulcro e uma sombra desmedida avoluma-se e sufoca-nos. Foi desse negrume, que se chama a Morte, que ele ouviu sair uma voz cheia de ternura — a ternura que toda a vida o envolveu—e que começou a falar-lhe baixinho. Nesse momento Gomes Leal deixou de viver no mundo da realidade para cohabitar com um fantasma…
Raúl Brandão
Memórias